Na semana passada reativamos o Blog do Lucchesi para trazer reflexões objetivas sobre os desafios diários da advocacia criminal. Nesta semana, a inspiração vem diretamente de um caso que acompanhamos recentemente.
A questão é intrigante: um acidente de trânsito, ocorrido durante a madrugada, resultou em uma acusação de homicídio culposo. O ponto central que pesa contra o motorista? Uma perícia feita a partir de um vídeo, que concluiu que, apesar da travessia ter ocorrido com o sinal fechado aos pedestres, o veículo estava acima do limite de velocidade permitido na via. Até aí, tudo parece simples, certo? O vídeo mostraria a verdade. Mas, no processo penal, a verdade precisa ser mais do que aparente: ela precisa ser verificável.
Desde o início, a defesa questiona a cadeia de custódia desse vídeo. O acidente ocorreu no fim de semana, mas as imagens só foram juntadas ao processo dias depois. Nesse meio tempo elas foram exibidas em alguns programas de TV, não sendo absurdo pensar que possam ter sido alteradas — ainda que sutilmente — para causar mais impacto. Um simples aumento na velocidade de reprodução em 0,5x já torna um vídeo de acidente mais chocante.
Partindo dessa premissa, a pergunta é simples, mas fundamental: o vídeo que serviu de base para a perícia é o mesmo que foi captado pelas câmeras de segurança na noite do ocorrido? Sem o registro da origem e integridade do arquivo, essa certeza se perde. E, no processo penal, sem certeza, não há espaço para condenação.
A tentação do senso comum
A sedução da prova visual é poderosa. “Contra imagens, não há argumentos”, diz o senso comum. Mas o processo penal não pode ser regido por máximas de mesa de bar. Não basta parecer convincente.
É aí que entra a cadeia de custódia (art. 158-A a art. 158-F do CPP): o conjunto de procedimentos que assegura que a prova, desde a coleta até o julgamento, permaneceu íntegra, preservada e rastreável. Sem isso, a confiabilidade do conteúdo é apenas uma suposição que, no processo penal, não serve para nada.
A simples formulação da tese — e de perguntas dela derivadas — foi suficiente para causar alvoroço. O investigador responsável pela coleta da prova reagiu como se estivesse sendo acusado pessoalmente de fraude. O membro do Ministério Público, por sua vez, insiste que a defesa está brigando com o óbvio, que as imagens não deixavam margem para interpretação, e que não há qualquer prova de adulteração do vídeo.
Todavia passou desapercebido para ambos que o questionamento não é voltado ao conteúdo das imagens, mas sobre sua verificabilidade. Não é sobre o que o vídeo mostra, e sim se aquilo que aportou ao processo é, de fato, o mesmo material captado originalmente pela câmera de segurança. Só isso.
No caso, o perito do Instituto de Criminalística — que só teve contato com a prova uma semana depois do ocorrido — registrou em seu laudo os códigos fonte dos vídeos que lhe foram entregues para análise. Mas isso, por si só, não resolve o problema.
Isso porque nenhum documento foi lavrado no momento da apreensão. Não há termo de exibição. Não há auto de apreensão. Não existe nenhum registro dos códigos fonte ou hash na origem (leia-se: no DVR ou equipamento informático onde as imagens foram captadas).
Não há, portanto, parâmetro de confrontação.
Prova boa é prova verificável
A distinção entre parecer e ser é central. Um vídeo pode parecer autêntico, parecer impactante, parecer incriminador. Mas nenhuma dessas impressões substitui o dever de demonstrar tecnicamente que a prova é segura. No caso em comento, por exemplo, não há como se verificar se os vídeos chegaram ao processo passaram ou não por edição.
É por isso que é torpe o argumento de que a defesa não trouxe prova concreta de adulteração do vídeo. Na ausência do registro dos códigos da origem, a defesa ficou sem parâmetro de comparação.
A ideia aqui não é afastar todo e qualquer material audiovisual do processo penal. Pelo contrário. Vídeos e extrações de dados podem ser instrumentos valiosos.
Mas uma prova só é boa quando pode ser confrontada. Quando aceita o teste da dúvida. Quando sobrevive à pergunta: “como você chegou até aqui?”. A cadeia de custódia é o que responde essa pergunta. Sem ela, o processo se contamina por um vício de origem que não se corrige com boa vontade, tampouco com laudos posteriores.
A tecnologia pode dar velocidade à apuração, mas exige mais rigor, não menos.
Essa exigência já se mostrava indispensável quando o risco era uma edição rudimentar de velocidade de reprodução que, como no caso em comento, pode afetar diretamente a perícia que estima a velocidade com base no tempo de deslocamento do veículo entre dois pontos.
Mas isso se intensifica diante da evolução de inteligências artificiais como a VEO 3, capazes de gerar vídeos hiper-realistas a partir de simples comandos de texto.
Verificabilidade ou nada
No final das contas, é simples: prova boa é a que pode ser confrontada. É aquela que não teme perguntas. Que tem origem, registro, integridade. Sem isso, o que temos não é prova, é só narrativa.
Quando se fala de “mesmidade” é a isso que se faz referência: a possibilidade de constatação que a prova é a mesma, desde a coleta até o julgamento. Para que ela esteja presente, esse trajeto deve ser documentado, passo a passo. Se um arquivo não tem seu código fonte ou hash registrado no momento da coleta (por exemplo), não se pode para afirmar, tecnicamente, que ele não foi modificado.
Não importa se a imagem parece clara ou se a conversa parece comprometedora. Se não for possível demonstrar — com dados técnicos e documentação — que aquela prova é a mesma desde a coleta até o julgamento, ela simplesmente não serve.
A cadeia de custódia não é um luxo. É um pré-requisito. E isso vale para vídeos, para extrações de dados, para mensagens de WhatsApp — vale para tudo. Prova boa é a que aceita ser confrontada. A que sobrevive ao teste da origem. A que não precisa de fé, porque oferece verificabilidade.

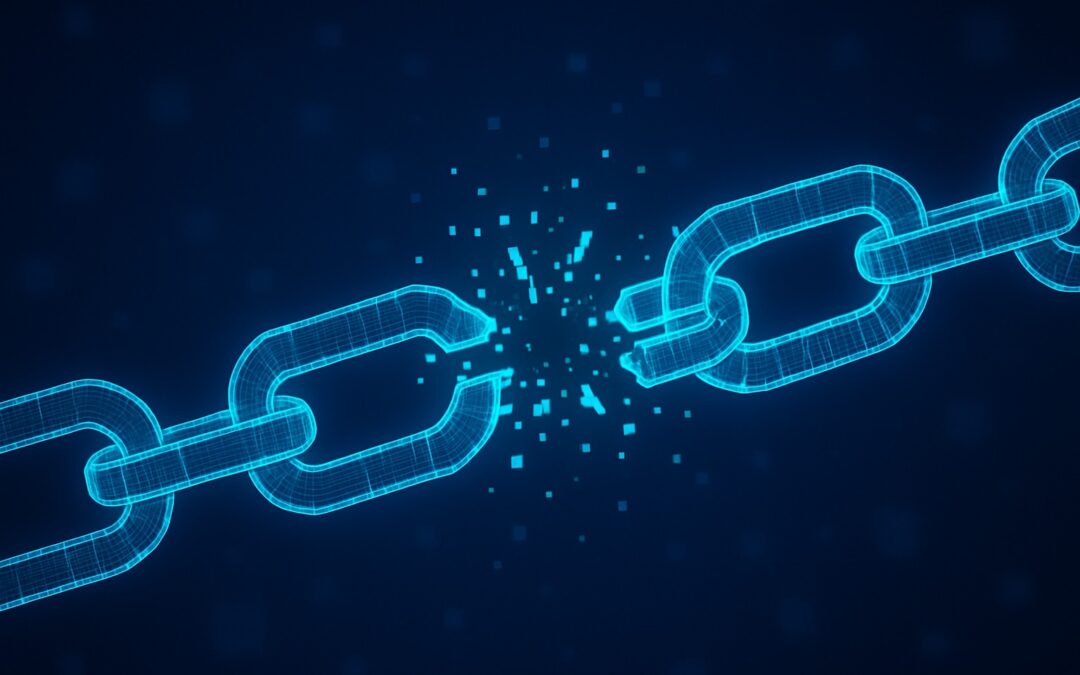
Recent Comments